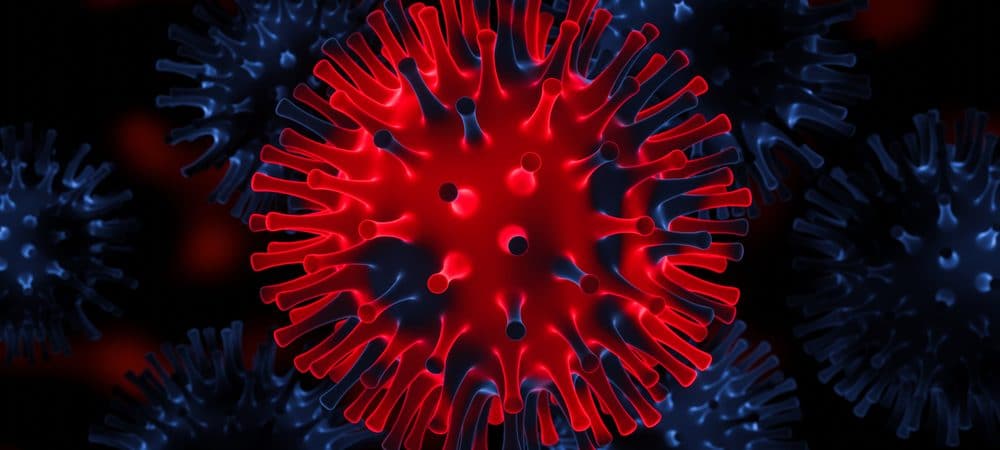Por Paulo Henrique Arantes
O que significam os encontros oficiais de Jair Bolsonaro, em fevereiro, com Vladimir Putin e Viktor Orbán, mandatários russo e húngaro que não mostram o menor apreço pela democracia? Significam que o presidente brasileiro estará frente a frente com dois dos autocratas nos quais se inspira, principalmente no caso do extremista de direita Orbán, e que o Brasil voltará ao tempo do obscurantismo diplomático de Ernesto Araújo, que parecia abandonado desde que Carlos França assumiu o Itamarati.
Em conversa com o Noticiário Comentado, Rubens Ricupero, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na Itália, prevê mais um salto de Bolsonaro na direção do completo isolamento global. “Orbán é num líder de extrema direita isolado no mundo cujo poder está ameaçado em seu próprio país. É uma aposta diplomática errada e pode ser mais um ‘prego no caixão’ de Bolsonaro, a exemplo do que foram as derrotas de Donald Trump e Benjamin Netanyahu”, disse Ricupero.
Já Putin, avalia o diplomata e ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, personifica hoje a maior ameaça à paz mundial, com a iminência de invasão da Ucrânia. “É um líder de potência armada que tem violado regras internacionais. Para onde irá a imagem do Brasil se Bolsonaro encontrar-se com ele logo antes ou logo depois de uma invasão da Ucrânia?”, indaga Ricupero. E responde: “O encontro será interpretado como apoio”.
Consertar o estrago diplomático que Bolsonaro provoca ao país não será tarefa fácil para o próximo presidente da República. Ex-subsecretário-geral da ONU, Rubens Ricupero diz que enxerga em Lula, líder em todas as pesquisas, alguém que “de fato, tem uma política externa”, como mostrou sua recente viagem à Europa. “Junto com Celso Amorim, Lula tem condições de conduzir bem a política internacional”, observa o ex-ministro, salientando sua discordância quanto a declarações recentes do ex-presidente sobre a Venezuela e a Nicarágua.
Ricupero lamenta que os pré-candidatos a Presidência do Brasil não mantenham temas ambientais em suas agendas prioritárias. Parece que lidam com tais questões por obrigação. “Nossos políticos, quando falam do tema, é mais por pressão do que por convicção. Eles são espertos no jogo do poder, mas atrasados no trato das grandes questões globais”.